Privatização não deve reduzir os crimes socioambientais da Eletrobras

Indígenas ocupam canteiro de obra de Belo Monte contra a construção de hidrelétricas na Amazônia em 2013. Foto: Foto: Ruy Sposati
Após o governo Michel Temer sinalizar com a privatização da Eletrobras, o mercado financeiro teve um orgasmo. Vislumbrou-se possibilidade de lucros e discutiu-se o potencial de investimento para a expansão do sistema. Tratando-se tudo como um bom negócio, não sobrou muito espaço para lembrar que, nas linhas de transmissão da empresa, não passa apenas energia, mas sangue de inocentes, trabalho escravo, desmatamento ilegal, remoções forçadas de comunidades tradicionais.
A matriz energética brasileira – Eletrobras à frente – foi estruturada sobre o discurso de que hidrelétricas produzem eletricidade de forma limpa. Isso desconsidera, é claro, que sua implementação expulsou comunidades indígenas e ribeirinhas, usou trabalho escravo no processo de construção ou fomentou em seu entorno, traficou pessoas para servirem de objeto sexual aos canteiros de obras, criou novos vetores de desmatamento, acentuou mudanças climáticas, fomentou a ocupação desordenada do solo e possibilitou assassinatos de posseiros e sindicalistas em conflitos rurais gerados pelos impactos diretos e indiretos de sua expansão. Se isso é ser limpo, imagine o que é sujo.
Se a situação já é precária tendo uma estatal à frente dos processos, ignora-se o tamanho do caos quando forem entregues à iniciativa privada. Não que o governo federal, como controlador, seja mais respeitoso à situação das populações impactadas pela expansão hidrelétrica no país. A história já provou que ele atende às prioridades de seus doadores de campanha e à cabeça de planilha de seus formuladores. O problema é que os registros também mostram que, sob comando de empresas privadas, o desrespeito à dignidade tem sido ainda maior porque é mais imune às pressões da sociedade civil.
Quando uma usina visa objetivamente ao lucro e apenas a ele, o planejamento do sistema não é feito pensando na redução de impactos em populações do campo. Muito mais interessante do que investir na troca por geradores mais potentes e na extensão de linhas de transmissão para diminuir as perdas e interligar o sistema é conseguir recursos públicos a juros baixos para construir usinas. Boa parte do setor privado, ainda mais no Brasil, tem ignorado deliberadamente que a mudança climática já afetou de forma definitiva nosso regime hídrico e, portanto, nossa capacidade de geração de energia em seus planejamentos. O que importa é o curto prazo.
O Ministério Público Federal denunciou que a implantação da usina de Belo Monte, no Pará, por exemplo, constituiu uma ação etnocida do Estado brasileiro e das construtoras responsáveis, "evidenciada pela destruição da organização social, costumes, línguas e tradições dos grupos indígenas impactados". A Eletrobras é dona de metade do empreendimento.
Nos últimos anos, publiquei sobre a libertação de escravas sexuais que abasteciam a obra pela polícia federal; sobre a morte de operários na obra e os protestos de trabalhadores por melhores condições; sobre como a obra queimava madeira legal e comprava madeira ilegal; sobre denúncias de espionagem envolvendo os construtores contra a sociedade civil; sobre as denúncias de perseguição de movimentos sociais por conta de críticas à obra; sobre as denúncias de indígenas por conta do impacto da obra no rio Xingu; sobre os impactos negativos nos moradores de Altamira; sobre as críticas do sistema interamericano de direitos humanos contra a obra; sobre a aprovação da obra a toque de caixa junto aos órgãos ambientais, sem ouvir decentemente as populações diretamente envolvidas, desrespeitando convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário; sobre como a população local estava sendo desprezada em todo esse processo em nome do conforto de nós, que vamos aproveitar a energia gerada.
Belo Monte é um exemplo bem acabado da parceria entre o público e o privado em nome da corrupção, do desastre socioambiental e trabalhista e de um modelo de desenvolvimento que deveria estar enterrado desde que os militares saíram do poder.
O problema é que, no Brasil, nada é tão ruim que não possa piorar "Até hoje Belo Monte viola direitos e tememos que, com a privatização da Eletrobras, a situação dos atingidos fique ainda pior porque a história mostra que com as empresas privadas o tratamento com os atingidos costuma ser mais violento", afirmou Fábio Magalhães, da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) no Xingu na página do movimento.
Somos obrigados a ouvir discursos de que a vida de algumas centenas de famílias camponesas, ribeirinhas, quilombolas ou indígenas não pode se sobrepor ao "interesse nacional". Discursos que taxam de "sabotagem sob influência estrangeira" a atuação de movimentos e entidades sérias que atuam para que o "progresso" não trague o país. Narrativas usadas nos governos do PSDB, PT e PMDB que não deixam nada a dever aos mentores da ditadura. E o desdém de que "sacrifícios são necessários" devem ser potencializados com a troca de comando.
Mas se o impacto na população do entorno não deveria ser encarado como problema, por que não construímos uma usina nuclear onde é hoje o Pacaembu, no centro da capital paulista, ao invés de infernizar a vida de comunidades a milhares de quilômetros dos grandes centros?
Deveríamos estar discutindo, antes de debater privatização, como reduzir o impacto da empresa sobre a população brasileira e o meio ambiente. O problema é que impor limites certamente reduziria seu preço de mercado. E o mercado, por aqui, é deus.

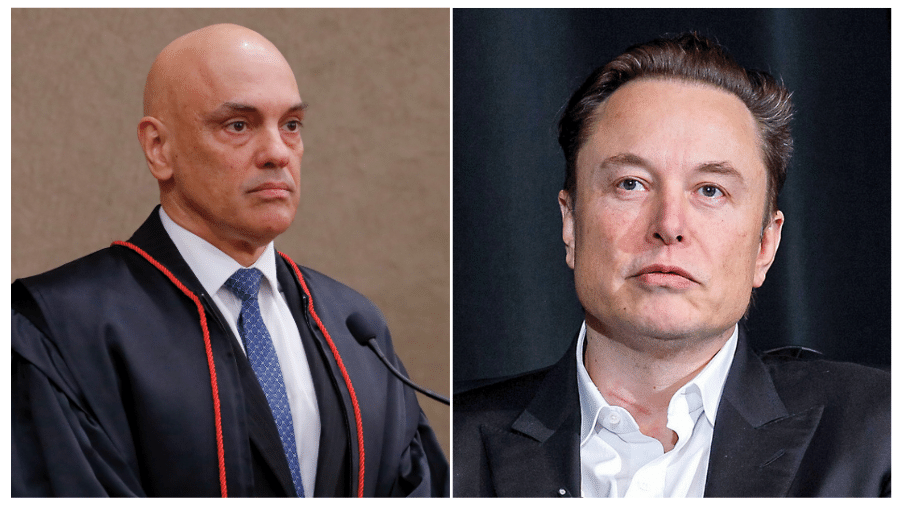




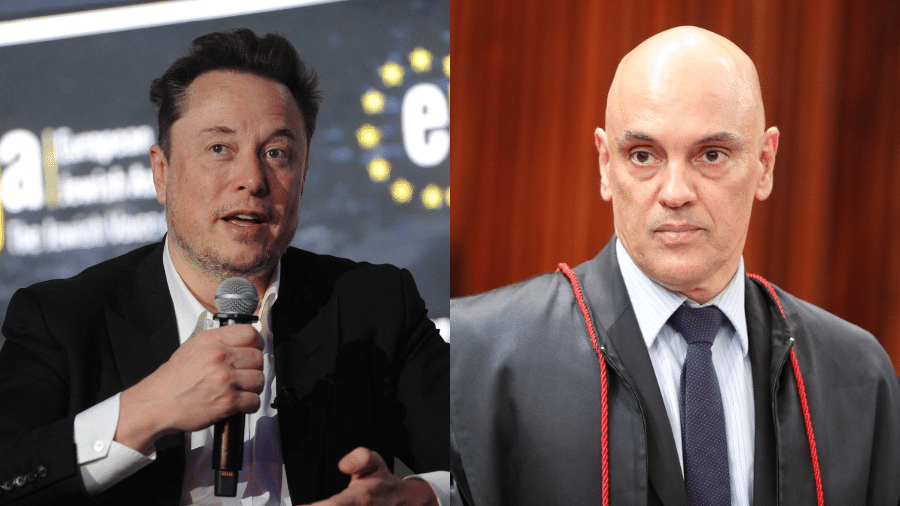








ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.