Como foi que chegamos a esta bagunça?
Como foi que chegamos a esta bagunça?
O questionamento poderia ser sobre o atual momento político do Brasil, com o presidenciável mais bem colocado nas pesquisas tendo sido esfaqueado, durante um ato de campanha, à luz do dia. Mas também com uma candidatura que fala em fuzilar adversários, admite autogolpe presidencial com ajuda de militares, afirma que existem mulheres que merecem ser estupradas, despeja preconceito contra negros, indígenas e pobres, defende propostas que enfraquecem o combate ao trabalho escravo e diz que famílias lideradas por mães e avós são fábricas de desajustados. Em meio a isso, eleitores que não ouvem, refletem, dialogam, apenas compartilham o que recebem nas redes sociais, terceirizando sua autonomia e o protagonismo sobre sua própria vida.
A pergunta, contudo, é o mote do novo filme de Michael Moore, Farenheit 11/9, que estreou oficialmente nos Estados Unidos nesta sexta (21). O dia 9 de novembro de 2016 marcou a eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos. Assisti ao documentário, que dá a visão do polêmico cineasta sobre o que levou o empresário ao poder e as possibilidades de enfrentamento a ele e o que ele representa, via ocupação da política por pessoas comuns que estão fora da elite partidária.
No início, o doc mostra personalidades da política, do jornalismo e do entretenimento norte-americano dizendo que Trump nunca seria presidente, ao contrário dos alertas de quem olhava para o ressentimento dos trabalhadores pobres do interior profundo do país. Se esses depoimentos estivessem em português seriam confundidos com a arrogância ou o estado de negação de muitos brasileiros meses atrás.
Comparações plenas não são aplicáveis por sermos realidades diferentes. Mas usar a frase do início deste texto não é plágio, até porque ela surge espontaneamente na cabeça de milhões, em vários lugares do mundo, de forma independentemente e quase simultânea. Nas Filipinas, de Rodrigo Duterte, na Hungria, de Viktor Orbán. Como foi que chegamos a esta bagunça no Brasil?
O desalento diante da capacidade da política tradicional em garantir respostas razoáveis às demandas de trabalhadores desempregados, por exemplo, ajuda a entender por que, ao redor do mundo, o discurso que procura inimigos externos aos nossos próprios problemas, inimigos que roubam empregos, encontra eco e apoio. No Brasil, por exemplo, o cinismo já é maior que os índices de geração de emprego.
Quem apoiou a saída de Dilma Rousseff, seja por conta das denúncias de corrupção em seu governo ou pelo desgosto com a grave situação econômica que ele ajudou a construir, sentiu desalento ao perceber que saiu da frigideira para cair direto no fogo. Talvez haja êxtase em quem professa o antipetismo pelo antipetismo, mas este texto não trata de patologias ou comportamentos infantis.
Quem não apoiou o impeachment e protestou contra sentiu impotência diante da profusão de denúncias de corrupção decorrentes do fisiologismo a céu aberto do atual governo e de sua relação incestuosa com o Congresso Nacional. E também impotente com a aprovação de uma agenda de desmonte da proteção social, trabalhista e ambiental, que não foi chancelada pela população através de eleições.
Quem não foi às ruas nem para apoiar a queda de Dilma, nem para defendê-la, grupo que representa a maioria da classe trabalhadora e, portanto, a esmagadora maioria da população, e assistiu pela TV ao impeachment (indo dormir cedo, por que tinha que pegar ônibus de madrugada ou andar quilômetros a pé para chegar ao trabalho), segue onde sempre esteve: sentindo que o país não lhe pertence. Entende que as coisas vão piorando e, quando bandidos não retiram o pouco que ele tem, o Estado faz isso. Seja roubando sua qualidade de vida através de equipamentos de educação e saúde que não funcionam, seja violentando-o nas periferias de todo o país.
Isso eu já disse aqui por ocasião do impeachment. E alertei que a manutenção forçada do governo Michel Temer, cuja legitimidade, honestidade e competência foram exaustivamente questionados, não seria suficiente para levar o país às ruas. Pois a sensação é de que uma parte da população, aturdida com tudo o que foi descrito acima, deixou de acreditar na coletividade e busca construir sua vida tirando o Estado da equação. O que deixa o Estado livre para continuar servindo à velha política e a uma parte do poder econômico.
O Brasil cozinhou sua insatisfação em desalento, impotência, desgosto e cinismo. Isso não estoura em manifestações com milhões, mas gera uma bomba-relógio que explode invariavelmente em algum momento, lançando estilhaços que ferem de morte a democracia.
Quando o impeachment foi aprovado, um dos receios era o esgarçamento institucional que a retirada de uma presidente eleita pelo voto popular por um motivo frágil (pedaladas fiscais) em vez de um caminho mais sólido (cassação da chapa por caixa 2) poderia causar. Infelizmente, o esgarçamento aconteceu.
Vivemos um momento em que a sensação é de desrespeito a regras e normas – principalmente por parte do governo e de parlamentares – é amplo. E de que o mundo é dos mais espertos. Qual é a motivação de um cidadão comum, que rala o dia inteiro e não tenta levar vantagem sobre o vizinho, quando lê que um ministro tentou usar seu cargo para liberar a construção do prédio onde ele terá um apartamento de luxo? Ou que um deputado federal e um magistrado recebem auxílio-moradia mesmo tendo imóveis próprios na cidade onde trabalham?
Pessoas decretam a inutilidade não só do parlamento, mas também da própria atividade política – que, teoricamente, deveria ser uma das mais nobres práticas humanas. Outros solicitam que se encontre um "salvador da pátria" que nos tire das trevas, sem o empecilho de pesos e contrapesos. Ou que Jesus volte.
A corrupção minou bastante a credibilidade de instituições. Mensalões, Trensalões, Lavas-Jato e a maioria dos escândalos, que permanecem longe dos olhos do grande público, foram relevantes. Mas a incapacidade da classe política em garantir que a população mais pobre não sofresse de forma tão violenta os efeitos da crise econômica é um motor de insatisfação difícil de ser superado.
O problema é que deixar de confiar na política como arena para a solução dos problemas cotidianos é equivalente a abandonar o diálogo visando à construção coletiva. Caídas em descrença, instituições levam décadas para se reerguer – quando conseguem. No meio desse vácuo, vai surgindo a oportunidade para pessoas que se consideram acima das leis se apresentarem como a saída. Pessoas que prometem ser uma luz na escuridão, mas nos guiarão direto às trevas.
Talvez o tempo da indignação já tenha passado. E abriu caminho para a desconstrução daquilo que três décadas de uma Constituição cidadã ergueram por aqui. Grandes governos autoritários ao redor do mundo, à direita e à esquerda, também começaram respaldados pelo voto popular. Sim, a democracia pode morrer sob uma salva de palmas de uma maioria.
Como foi que chegamos a essa loucura? Pelas nossas próprias pernas. E nosso medo. E nosso silêncio. E só andando para longe disso, com coragem e diálogo é que podemos garantir que a democracia não se torne uma lembrança boa.









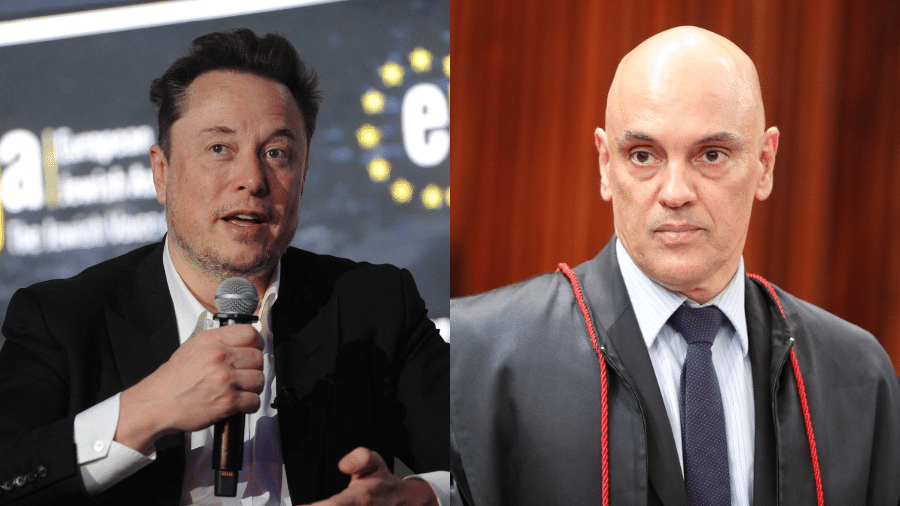




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.