O fim das eleições será o início do macarthismo e da caça às bruxas?
"Assim que virar o ano, você tá fodido, japonês." Um rapaz aproximou-se de mim na rua, disse a frase que está no início deste texto, sorriu de canto de boca e, junto com outro, aparentando a mesma idade, seguiu seu caminho. Calmamente. Não olhou para trás para ver minha reação. Decerto, achou que não precisava, provavelmente porque não era a primeira vez que tentava intimidar alguém.
Óbvio que não levei a sério o que disse – o bom de já ter recebido muitas ameaças é que você consegue diferenciar facilmente um frango fanfarrão da galera sinistra que não brinca em serviço. Mas não deixa de ser surpreendente a facilidade com a qual alguém fala isso a um estranho na rua como se estivesse pedindo Toddynho na padaria. Como se a (falsa) sensação de anonimato garantida pelas redes tivesse transbordado para fora.
O Brasil está normalizando a violência como a resposta ao mensageiro que traz notícias consideradas mentirosas simplesmente porque não confirmam uma visão de mundo. Violência vista como legítima por quem defende o seu "direito" de lutar contra o direito dos outros.
Entidades como a Anistia Internacional, a Repórteres sem Fronteiras, a Artigo 19 e a Human Rights Watch já consideram o Brasil um dos lugares mais perigosos em todo o mundo para um jornalista exercer sua profissão, com as ameaças, agressões e dezenas de mortos nos últimos anos.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) registrou, até agora, 70 ocorrências de assédio em meios digitais contra jornalistas no contexto eleitoral. Elas se somam a outras 59 agressões físicas registradas, em um total de 129 violações contra profissionais de imprensa relacionadas às campanhas em 2018.
Para além da contagem da Abraji, são frequentes os relatos de colegas jornalistas que foram ameaçados, perseguidos e agredidos, vítimas de assédio on-line e offline por parte de fãs do candidato Jair Bolsonaro (PSL). Não estou, com isso, dizendo que a extrema direita detém o monopólio da violência contra profissionais da imprensa – os registros de agressões por parte de apoiadores do PT ao longo dos anos provam que não. Mas o ex-capitão não repudia os atos de sua tropa. E a virulência e a quantidade desses ataques têm sido sistemáticos.
Da mesma forma que alguns tentam impor um falso paralelismo entre o risco à democracia representado pela ascensão de Jair Bolsonaro e o retorno do PT ao poder, há quem queira fazer crer que, nestas eleições, jornalistas têm sido atacados pelas turbas dos dois principais colocados de forma igual.
Diante dessa situação, parte das empresas de comunicação noticiam os ataques e prestam todo o suporte, jurídico e pessoal, aos seus jornalistas. E há aquelas que fazem de conta que nada aconteceu ou menosprezam o ocorrido. Para essas empresas, ainda bem que a maioria de nós, jornalistas, não se reconhece como trabalhador, nem tem espírito de grupo, caso contrário, muitos já teriam cruzado os braços.
Tanto a eleição presidencial brasileira de 2014 quanto a de agora, como o pleito que escolheu Donald Trump presidente dos Estados Unidos, podem ser vistos como momentos nos quais a frágil costura dos plurais e contraditórios retalhos sociais de ambos os países se rompeu. Como detesto esse linguajar de sociólogo de botequim, traduzo para o vernáculo: momentos que deu ruim.
O ódio e a intolerância não foram criados nessas horas, mas fermentam há muito tempo, talvez desde as fundações dessas países que "foram" as duas maiores sociedades escravistas modernas. E que seguem seus genocídios de jovens pobres e negros pela ação direta ou pela anuência do Estado.
A incapacidade de colocar-se no lugar do outro e entender que ele merece a mesma dignidade que sonhamos para nós mesmos esteve sempre presente. Mas não estava distribuída pela internet, conectada pelas redes sociais, amplificada pela popularização de smartphones e organizada por grupos políticos interessados em moldar a opinião pública e o processo eleitoral por meio digital.
Fábricas de notícias falsas estão aprofundando a ultrapolarização, levando o país às vias de fato, incitando a população e municiando-a para o confronto. Mas o conflito deflagrado e fermentado pelo rancor ao antipetismo no período eleitoral poder ser apenas o início. O receio é o que pode acontecer no dia seguinte às eleições, dependendo do resultado.
O grosso da população, incendiada no período eleitoral, deve voltar ao "normal" após a apuração dos votos da mesma forma que houve uma descompressão após a votação do impeachment. O que não significa que parte da sociedade não se mantenha em guerra, alimentada pelo ressentimento ou pelo não reconhecimento de derrota eleitoral de seus líderes.
Vai demandar um exaustivo trabalho de redução de animosidades e de sinalização ao lado derrotado por parte do eleito. O problema é que nem todos os candidatos aceitaram essa distensão. Até porque o medo pode ser um excelente instrumento de governo.
Caso Bolsonaro vença, grupos radicais, sentindo-se empoderados pela mudança de governo, vão se sentir à vontade de ir às ruas, atuando como milícias políticas, para monitorar e punir opositores do governo, militantes pelos direitos humanos e jornalistas? Ou, em caso de derrota, eles também sairão às ruas para se vingar? Essas dúvidas pairam sobre várias redações e organizações da sociedade civil sem uma resposta simples.
Durante o processo de impeachment, o "vermelho" se tornou a cor errada por um longo tempo, levando a pessoas que vestisse essa cor fosse punido. A perseguição ideológica de um certo "macarthismo à brasileira" pode se instalar por aqui, bem como um clima de caça às bruxas a toda ideologia que não seja aquela que não se afirma como ideologia e que, por isso, mais ideológica é. Porém, ao invés de acusar inimigos apenas de comunistas, como ocorreu nos Estados Unidos da década de 50, pessoas inocentes podem ser acusadas de pedofilia, por exemplo.
Debater história em sala de aula pode virar delito passível de demissão, ainda mais quando recebemos notícias como a do Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, que retirou o livro "Meninos Sem Pátria", de Luiz Puntel, da lista de leitura do sexto ano. Lançado em 1981, o livro – em sua 23ª edição – trata da história de uma família que precisa sair do Brasil após o jornal onde o pai trabalha ser invadido durante a ditadura militar e ele passar a receber ameaças. História que conta como é viver a infância e adolescência longe de casa. Grupos de pais se revoltaram contra o livro por considerá-lo "comunista".
É triste. Porque há uma geração de brasileiros que pode não conhecer a liberdade que seus pais tiveram.

Boneco simbolizando a filósofa feminista Judith Butler foi queimado durante protesto, em novembro de 2017, em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/ Estadão Conteúdo
A parte mais preconceituosa e discriminatória do politicamente incorreto tende a ser tornar revolucionária na voz de alguns autointitulados humoristas. Nesse sentido, refugiados e trabalhadores estrangeiros podem passar a ser alvos de xenofobia ainda mais explícita, tornando o caso dos haitianos alvejados com projéteis em São Paulo uma brincadeira de criança. Grupos extremistas pegam carona em todo esse processo, usando o contexto para pautar ideias violentas e absurdas. Jornalistas, sejam eles conservadores ou progressistas, são calados, não necessariamente pelo governo, mas por milícias digitais e convencionais que atual livremente, caso não contem a "verdade" que interesse a quem esteja no poder.
Acho que este momento eleitoral é importante para olharmos para nossas entranhas e discutirmos que tipo de sociedade queremos ser. Devido à pluralidade de nossa composição, não é possível imaginar que o melhor modelo não seja o de seguir a vontade da maioria, garantindo, contudo, o respeito à dignidade de todas as minorias em direitos. Para isso, é necessário pensar novas formas de fortalecer a esfera pública e trazer para dentro dela a própria população, com todos os seus matizes ideológicos, garantindo que o discurso violento e opressor (mais palatável e que mexe com nossos sentimentos mais primitivos e simples), que ecoa e repercute fácil, não baste em si mesmo.
Não se qualifica o debate, para evitar a hegemonia desse discurso violento, apenas através de ações individuais. Você precisa de uma ação em escala, o que teríamos – na minha opinião – através do Estado – que é o espaço que regula a concepção de educação e os parâmetros educacionais. Ou seja, precisaríamos repensar o ensino para melhorar esse debate público. O que fazer, contudo, quando o Estado está capturado por esse pensamento?
Como fazer isso em um tempo em que o Estado pode estar tomado por quem não vê a deflagração do tecido social como um problema, mas que surfa nesse medo e nessa insegurança, e que acha que o modelo de educação plural e pública está fadado ao fracasso, é um desafio que teremos que responder. O mais rápido possível, se quisermos ter um futuro.

Problema global: Marcha de racistas em Charlottesville, EUA. Foto: Andrew Shurtleff/The Daily Progress
Perdi a quantidade de vezes que fui xingado e ameaçado ou que me acusaram de coisas que nunca fiz, aos gritos, em restaurantes, supermercados e outros espaços públicos nos últimos anos. Já fui perseguido e chegaram às vias de fato, tendo sido cuspido e derrubado na rua. Grandes empresas já pagaram campanhas de difamação, milícias digitais criaram notícias falsas contra mim. O Ministério Público Federal recebeu e solicitou investigação policial de ameaças graves que recebi. Afinal de contas, tratar de direitos humanos e trabalho escravo é crime no Brasil.
Os Camisas Negras, do fascismo italiano, atacavam jornais, movimentos políticos, sindicatos, grevistas, intelectuais e quem ousasse ir contra os ideais que seus líderes defendiam. Pregavam, através do medo e da porrada, o nacionalismo e repudiavam o comunismo, o liberalismo e o pacifismo. Seria leviano comparar dois momentos históricos diferentes em poucas linhas. Mas a Itália da primeira metade do século 20, não contava com nossa tecnologia de comunicação, que garante que ações de justiciamento sejam promovidas de forma imediata e massiva.
É assustador saber que alguém visto como "normal" e "comum" pode ser capaz, nos contextos histórico, político e institucional apropriados, tornar-se o que convencionamos chamar de monstro. Ou seja, os monstros são nossos vizinhos ou podemos ser nós mesmos. Pessoas que colocam em prática o que leem todos os dias na rede e absorvem em redes sociais: que seus adversários políticos e ideológicos são a corja da sociedade e agem para corromper os valores morais, tornar a vida dos "cidadãos pagadores de impostos", um inferno, e a cidade, um lixo. Seres descartáveis, que vivem na penumbra e nos ameaçam com sua existência, que não se encaixa nos padrões estabelecidos do bem.
O problema não é apenas um governo que não se preocupe com os direitos fundamentais e sim um governo que não controle seus seguidores – que, nas ruas ou na rede, queiram eliminar os que defendem que todos, absolutamente todos, nascem iguais perante à República.
A depender do que aconteça e de não sermos suficientemente competentes em desarmar a bomba, o fato de eu estar "fodido" será o mais insignificante dos problemas.








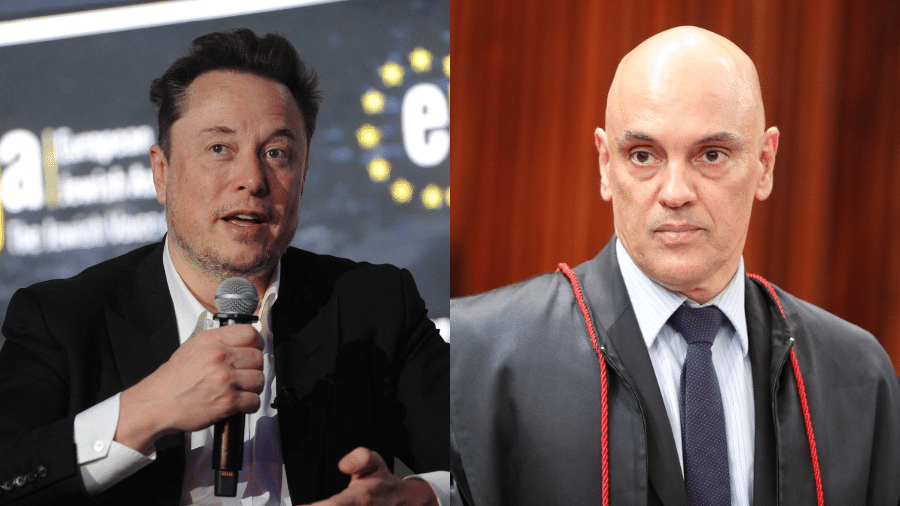









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.