Quando um "orelhão" é quebrado no Brasil, um panda se suicida na China
Remexendo as gavetas da casa de meus pais, neste domingo, desenterrei um punhado de fichas telefônicas. Imediatamente, senti aquele gosto de Dip Lik e um vontade louca de comer chocolate Surpresa e ir ver a Gigi no Bambalalão.
Tente explicar para alguém que nasceu após a popularização de celulares e smathphones – quando adquirir um aparelho se tornou mais barato do que fazer um churrascão para a galera na laje – que antigamente andávamos com fichas no bolso para fazer ligações.
As de cor cinza serviam para chamadas locais e as poderosas prateadas completavam ligações DDD, de longa distância. Eu adorava as prateadas – elas grudavam em imãs.
É claro que, olhando para trás, sinto-me como se carregasse um tacape para caçar o almoço. Da mesma forma que, daqui a mil anos, vão olhar para a nossa época e pensar: "Que primitivos! Eles usavam sons para se comunicar". É a vida.
Mas a importância dos "orelhões" não desapareceu com a popularização dos aparelhinhos. Há muita gente, não só em cidades pobres do interior, mas também em grandes cidades, que não pode ou não quer ter um celular e precisa de telefone públicos.
As operadoras põem a culpa do preço da ligação de celular na taxa de interconexão (o uso das redes umas das outras), na necessidade de recursos para o desenvolvimento do sistema, no baixo carregamento nas linhas pré-pagas, nos impostos, no Marco Civil, no Godzilla, no Frank Underwood, no Osmar Prado como vilão da novela das 18h, enfim. Mas esquecem de dizer que o mercado de telecomunicações no Brasil é ótimo. E, para elas, orelhão é mais pedra no sapato do que fonte de receita.
Defender os aparelhos públicos funcionando não é, portanto, um ato de proteção ao patrimônio privado de uma grande empresa, mas parte do direito à comunicação de quem normalmente vive à margem.
Respeito a opinião de colegas que defendem danos a determinados patrimônios como atos políticos, apesar de ter algumas divergências. Mas certamente ganhei algumas inimizades, que não serão desfeitas nem com muita doação de Dip Lik, quando digo que se faz necessária uma reflexão seletiva sobre o uso da força. Não vou entrar nesse debate – já fiz isso anteriormente e várias vezes. Dêem uma busca aí na ferramenta a lado.
Até porque, se dependesse das empresas de telecomunicações, elas já teriam dado uma banana à sua obrigação contratual de garantir telefones públicos espalhados e em quantidade suficiente em cidades como São Paulo. Bem pelo contrário, a briga para que consertem rapidamente aparelhos com defeito é grande.
Tempos atrás, relatei que uma senhora de cabelos brancos passou alguns instantes prostrada diante do orelhão cujo gancho havia sido arrancado e piava sem parar. Indignada, virou-se para mim, que esperava para atravessar na faixa de pedestres ao lado, e olhou-me com todo o cansaço do mundo.
Pois no Brasil, onde há mais celulares ativos do que gente de acordo com a Anatel, a tarifa cobrada pelas operadoras é uma das mais caras do planeta. Os poucos reais de crédito que velhas senhora colocara no pré-pago haviam sumido. Tentaria a sorte com o velho cartão telefônico. Se houvesse um telefone. Ironicamente, o orelhão pertencia à mesma empresa que o celular dela. É claro que emprestei meu celular e é óbvio que havia outro telefone público na mesma rua. Mas e se estivesse à noite ou chovendo? E se ela estivesse doente?
A maritaca que está cantando do lado de fora da minha janela está com preguiça de que eu abra a segunda-feira já com uma discussão e só parou de piar quando garanti que seria breve. Mas a despeito de operadoras que não garantem manutenção adequada, cabeças de toupeira com problemas de autoestima que acham que o telefone é o local para descontar suas frustrações e pessoas com visão um tanto quanto equivocada sobre quais são os principais símbolos do capitalismo que devem ser alvos de protestos, continuo achando que não cuidar de orelhão é e sempre será uma idiotice sem tamanho.

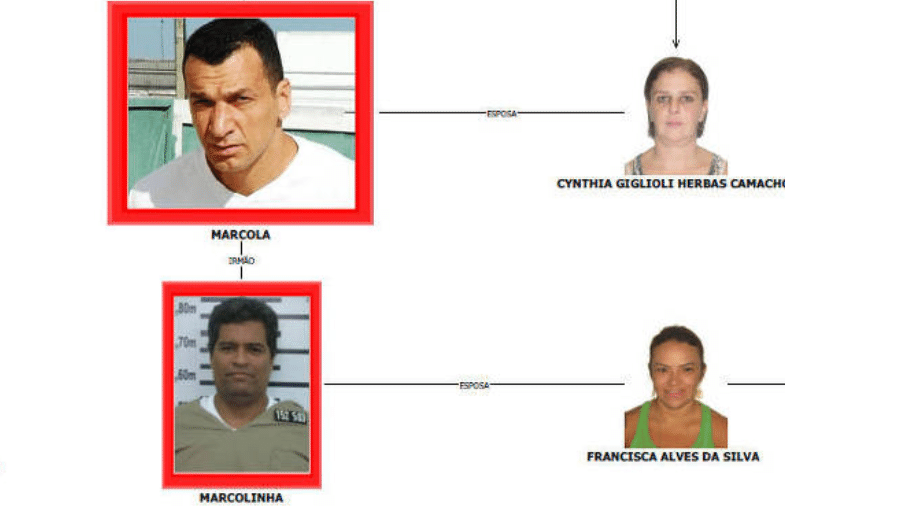







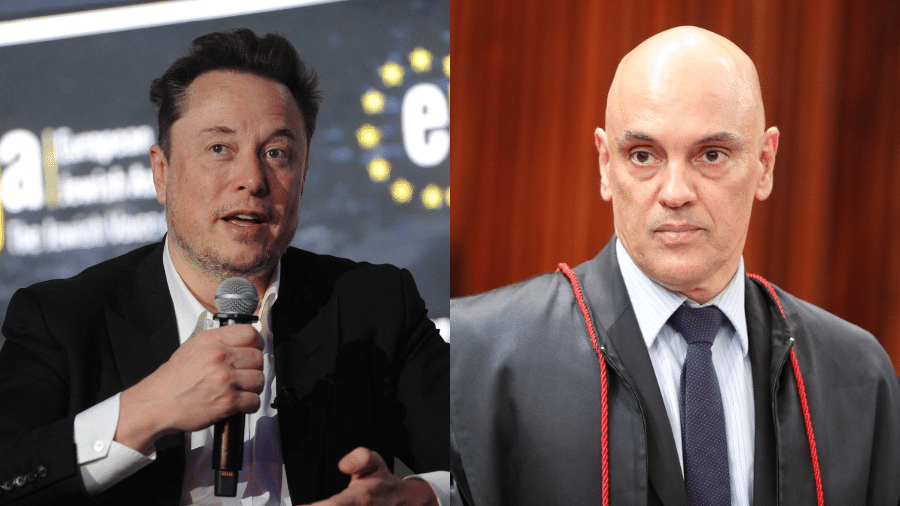




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.