Dois sem-terra mortos. E um novo ministro que defende bala contra sem-terra
No mesmo final de semana em que dois líderes de um acampamento do MST na Paraíba foram executados a tiros, o presidente eleito Jair Bolsonaro indicou para o Ministério do Meio Ambiente o advogado Ricardo Salles – que, durante sua campanha derrotada para deputado federal, escolheu o número 3006 em referência a um tipo de munição. E associou sua campanha e essa munição, em propagandas distribuídas pelas redes sociais, ao combate contra a "esquerda e o MST".
Os dois fatos terem acontecido com algumas horas de diferença entre um e outro é – muito provavelmente – uma coincidência.
Mas a relação entre a velha política brasileira (mesmo aquela que se afirma como nova), determinados setores econômicos e a violência a trabalhadores e povos do campo, não é. Pelo contrário, foi agressivamente roteirizada ao longo de muitos governos. E pelo protagonista e os coadjuvantes escolhidos para a próxima temporada, deve seguir igual ou ser ainda pior. Por um bom tempo.
No acampamento Dom José Maria Pires, vivem 450 famílias, produzindo culturas de subsistência em uma terra improdutiva que antes era um bambuzal, pertencente ao grupo Santa Tereza. Segundo o movimento, pessoas fortemente armadas entraram encapuzadas e mataram, na noite deste sábado (8), Rodrigo Celestino e José Bernardo da Silva.
Raquel Dodge, procuradora-geral da República, Débora Duprat, procuradora federal dos Direitos do Cidadão e José Godoy, procurador regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba emitiram nota pública manifestando solidariedade às famílias e garantindo que o crime será investigado e os responsáveis, punidos. A nota lembrou que José Bernardo (conhecido como Orlando) é irmão de Osvaldo, que integra a coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens e teve outro irmão, Odilon, também da coordenação do MAB, executado em uma emboscada em 2009.
Michel Temer demonstrou que não tem pudores de declarar guerra, quando baixou a intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro. Mas isso não é contra qualquer um. Até porque o inimigo para muitos pode ser o aliado de alguns. Dada as denúncias de crescimento no número de chacinas no campo pela Comissão Pastoral da Terra, é surpreendente como ele não declarou nada.
Ano após ano, os relatórios de violência no campo da CPT e os casos divulgados pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), entre outras organizações nacionais e internacionais, reforçados pelas declarações de relatores ligados ao Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas e por números da Organização Internacional do Trabalho, mostram que o Estado brasileiro tem sido incompetente para prevenir e solucionar crimes contra a vida no campo. E que há uma situação clara de conflito deflagrado. Isso quando não é, o próprio Estado, sócio de chacinas e massacres contra trabalhadores rurais, camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, entre outros.
Mortes no campo não são de hoje, mas há empresários gananciosos que estão com sangue nos olhos. Sentem-se fortalecidos por verem no atual e no próximo governos aliados para suas demandas.
Querem mudar as regras da demarcação de territórios indígenas, suprimir ainda mais a proteção ambiental, "flexibilizar" as regras para a implantação de grandes empreendimentos, frear a fiscalização, enfraquecer o conceito de trabalho escravo contemporâneo, atenuar a punição para as piores formas de trabalho infantil. E, principalmente, desejam manter sob seu domínio a terra que, muitas vezes, grilaram da coletividade ou roubaram de comunidades tradicionais. Passando bala em quem estiver no meio do caminho, em alguns casos.
A corrupção policial e o seu envolvimento em execuções, verificada em grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, ocorre sem rodeios ou maquiagens na região de expansão agropecuária. Agentes públicos de segurança atuam à luz do dia como jagunços de fazendas, remunerados por elas. Por exemplo, em maio do ano passado, uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Pará levou à morte de nove homens e uma mulher no município de Pau d'Arco. Segundo o governo do Estado, os policiais estariam cumprindo mandados de prisão de acusados de assassinar um segurança de uma fazenda, mas as investigações apontaram para um massacre.
Ações como essa têm sido comuns na região Sul-Sudeste do Pará, na Terra do Meio, nas franjas da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, no Nortão do Mato Grosso, no Oeste do Maranhão, no Agreste e na Zona da Mata do Nordeste, entre outros lugares. De tempos em tempos, um grupo de pobres é emboscado e assassinado. Alguns são mais conhecidos e ganham mídia nacional e internacional, mas a esmagadora maioria passa como anônimos e são velados apenas por seus companheiros e familiares.
Nove pessoas foram assassinadas em uma área próxima a um assentamento em Colniza (MT), município que faz divisa com os Estados do Amazonas e Rondônia, em abril do ano passado. Dois foram mortos a facadas e sete com tiros de calibre 12 por pessoas encapuzadas, de acordo com sobreviventes. A história ganhou as páginas de jornais e de sites devido a colegas dedicados que acompanham o tema, para logo depois desaparecer diante da chacina de Pau d'Arco.
E com louváveis exceções como a de magistrados com coragem de condenar escravagistas, de procuradores que não dão trégua a quem mata e desmata e de policiais que realmente investigam até o fim independente dos responsáveis, o sistema de Justiça no campo tem servido para proteger o direito de alguns mais ricos em detrimento dos que nada têm.
Da mesma forma que nos morros e periferias cariocas, a violência no campo não é uma questão do bem contra o mal – há gente que ganha muito com o sistema do jeito em que está. Para quebra-lo, é necessário reinventar muitas práticas e sacudir o modelo de desenvolvimento do país. O governo Bolsonaro, ao que tudo indica, não fará isso, da mesma forma que os governos Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Itamar, Collor e Sarney também não fizeram desde a redemocratização – não é necessário comentar que os militares foram "sócios" desse modelo. E não estamos falando de revolução, mas de simplesmente seguir as regras do jogo – coisa que é vista com desdém em nosso capitalismo tosco de periferia.
Não gosto de dizer que o Estado tem sido "ausente" nessas regiões, pois seria um erro do ponto de vista conceitual. Contudo, as instituições que servem para garantir a efetividade dos direitos humanos da parcela mais humilde, como proteção e segurança, são mal estruturadas, defeituosas ou insuficientes. Enquanto isso, aquelas criadas para garantir o desenvolvimento econômico, seja através do financiamento do agronegócio, do extrativismo ou dos grandes projetos de engenharia, funcionam que é uma beleza.
Ouvi de uma liderança social na região Sudeste do Pará que pediu para não ser identificada, pois teme ser a próxima vítima, que "no Pará, quem vive do crime organizado e da pistolagem está tranquilo e seguro, pode matar que não vai acontecer nada". Em sua opinião, que publiquei neste blog há algum tempo, "é uma situação para intervenção federal". Chefiada por civis, não militares, ressalte-se. Outra liderança que não vai ser identificada pela mesma razão, explica que a situação se agravou muito nos últimos tempos. "Escancarou a prática dos crimes de encomenda, alguns deles com a presença de agentes públicos."
Apesar da catástrofe na segurança pública do Rio de Janeiro estar presente com mais frequência nas manchetes, a capital carioca não concentra os piores índices de violência do país – título que está nas mãos da paraense Altamira, segundo o Atlas da Violência 2017, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 107 mortes para cada 100 mil habitantes. Parte da responsabilidade por isso é do grande crime chamado Belo Monte, uma das principais bandeiras do governo Dilma Rousseff.
O novo ministro, Ricardo Salles, que contou com o apoio do lobby de parte do agronegócio, da indústria, da construção civil – setores que sempre reclamam de fiscalizações e das exigências ambientais, fez uma campanha a deputado federal bastante centrada na questão da segurança pública. Segurança para quem e para quê, sempre vale perguntar.
O governo Temer dificultou a vida dos mais pobres no campo, empoderando aqueles que querem resolver os conflitos na base da bala. E nada no horizonte mostra que isso irá se encerrar tão cedo.
Pelo contrário, ao que tudo indica, o que não vai faltar é munição.
Em tempo: O próximo ministro é réu em uma ação civil pública ambiental e de improbidade administrativa por conta de questões de quando era secretário do Meio Ambiente de São Paulo no governo Geraldo Alckmin. Mas esse nem é o maior problema da pasta. Caso ela atenda a interesses empresariais com visão de curto prazo e não à qualidade de vida desta e das futuras gerações, suas ações serão usadas como justificativas para retaliações comerciais de compradores estrangeiros. Dessa forma, terá sido inútil o "esforço" do governo Bolsonaro para manter as pastas de Meio Ambiente e Agricultura e Pecuária oficialmente separadas.












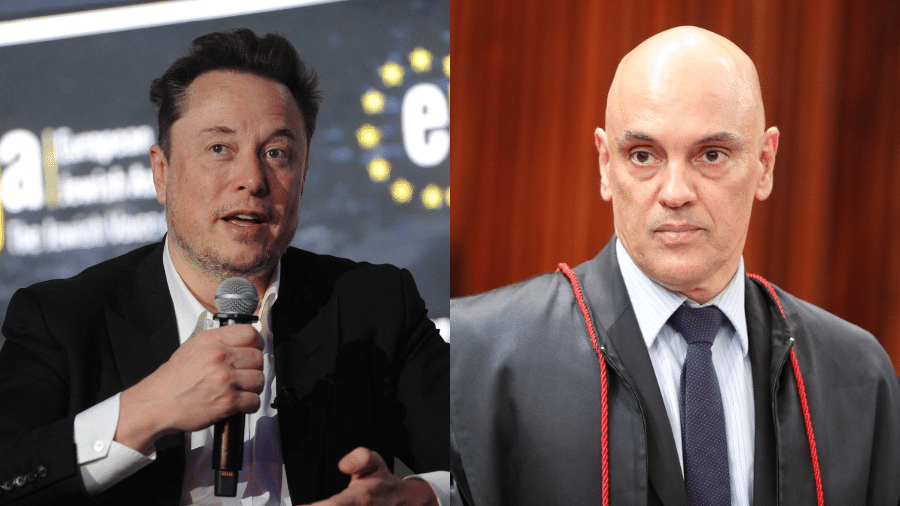



ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.