O que choca não é o Chile em convulsão social, mas o Brasil não estar
A turma que acredita que trabalhadores se alimentam de estatísticas, moram entre as linhas de uma planilha e tomam indicadores do mercado para tratarem de doenças está surpresa como o Chile, exemplo citado por tantos e tantos como modelo econômico, entrou em convulsão social. Nesta sexta (25), mais de um milhão de manifestantes foram às ruas da capital Santiago exigir educação e saúde, melhores aposentadorias e a deposição de políticos.
Como sugerir a um aposentado chileno que está abaixo da linha da pobreza, muito por culpa do regime de capitalização (aquele que o Paulo Guedes quer para o Brasil) implementado pela ditadura de Augusto Pinochet, que o seu pedido de socorro é um equívoco, uma vez que, segundo os números do Banco Mundial, ele vive numa ilha de prosperidade e estabilidade na América do Sul?
Como explicar a um estudante que seu país está bem posicionado em rankings internacionais de educação se a sala em que estuda é precária e faltam recursos para tudo e que, apesar da possibilidade real de mobilidade social, a perspectiva de ter um futuro segue diretamente proporcional a quanto seus pais têm na conta bancária?
Como convencer manifestantes que o governo chileno é sincero ao dizer que se preocupa com sua dignidade e integridade, se vemos imagens de policiais e militares agredindo violentamente aqueles que deveriam proteger? Isso sem contar as denúncias de execuções sumárias e de estupros que terão que ser apuradas pela missão enviada pelo Escritório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Até agora, foram 19 mortes decorrentes da ação violenta de forças de segurança e de certos manifestantes, como as que ocorreram devido a incêndios.
O custo de transição do regime previdenciário chileno para o de capitalização foi sendo pago por quatro décadas com recursos que seriam destinados aos serviços públicos de educação, saúde, moradia, transporte, água, luz. Era uma ditadura, então cabia ao povo apenas dizer sim. Hoje, as altas tarifas dos serviços, entregues à iniciativa privada, são impagáveis para uma parte da população. A desigualdade social é tamanha que, nesse quesito, o Chile tem sido humilhantemente comparado ao Brasil em reportagens.
O naco abonado da sociedade não entende o que fazer diante dessa "invasão alienígena" – para usar a expressão empregada pela primeira-dama do Chile para se referir aos manifestantes. Ela ainda lamentou que, consequentemente, teria que reduzir privilégios. A ignorância sobre a vida do andar de baixo é tamanha que o ministro da Economia, diante das reclamações pelas altas na tarifa do transporte, estopim para a explosão social, sugeriu aos trabalhadores que se levantassem uma hora antes para aproveitar tarifas mais baixas [fora do horário de pico, paga-se menos pela passagem – mas dorme-se menos também].
É impossível não fazer um paralelo com o Brasil de junho de 2013. E é não apenas pelos 20 centavos/30 pesos de reajuste na tarifa de transportes. Ou pela péssima reação dos governantes diante das manifestações, com força de segurança sendo violentas. Ou ainda pela falta de lideranças que respondessem pelos atos (vale lembrar que, por aqui, no começo, eles foram puxados pelo Movimento Passe Livre, depois ganharam vida própria). Ou pelo fato da insatisfação diante da qualidade dos serviços públicos ter centralidade em ambos os momentos. Mas, principalmente, pela percepção por parte dos manifestantes de que a democracia representativa tradicional, através dos governantes de plantão e dos que vieram antes deles, ainda não foi capaz de efetivar seu direito à dignidade.
Das Jornadas de Junho até o Queiroz
Uma grande parte dos manifestantes de junho de 2013 era composta por jovens que desaguaram subitamente na rua, sem formação política, mas com muita vontade e indignação, abraçando a bandeira da mobilidade urbana, mas trazendo outras. Não queriam apenas objetos de consumo, mas serviços públicos de qualidade e sentir que poderiam ser protagonistas de seu país e de suas vidas.
As Jornadas passaram, bem como as ocupações nas escolas em São Paulo, as marchas contra a Copa, as eleições presidenciais de 2014, os protestos das meninas e mulheres contra Eduardo Cunha e as tentativas de retrocesso no direito ao aborto, as manifestações a favor do impeachment de Dilma (e aquelas contra ele), até chegar nos atos contra as políticas de educação do governo Jair Bolsonaro e nos atos pela Lava Jato e contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mesmo considerando tudo isso, apenas uma pequena parcela dos brasileiros foi à rua.
Quem apoiou a saída de Dilma Rousseff, seja por conta das denúncias de corrupção em seu governo ou pelo desgosto com a grave situação econômica que ele ajudou a construir, sentiu desalento ao perceber que saiu da frigideira para cair direto no fogo de Michel Temer. Parte acredita que ele foi um mal menor, parte concluiu que botou os pés pelas mãos. Mas foi traumático institucionalmente para o país. Os únicos que vivem em êxtase ao lembrar daquele momento são os que professam o antipetismo como religião. Coincidentemente, muitos desses acreditam que Bolsonaro está certo em todos seus preconceitos. Não vou discorrer mais sobre esse comportamento porque este debate não é sobre patologias sociais.
Quem não apoiou o impeachment sentiu desânimo diante da profusão de denúncias de corrupção decorrentes do fisiologismo a céu aberto do governo Temer e de sua relação incestuosa com o Congresso Nacional. E também impotência com a aprovação de uma agenda de desmonte da proteção social, trabalhista e ambiental, que não foi chancelada pela população através das eleições de 2014 (porque o projeto vencedor havia sido outro) e das eleições de 2018 (porque simplesmente não houve debate público).
Agora, quem não foi às ruas nem para apoiar a queda de Dilma, nem para defendê-la, nem para apoiar Bolsonaro, nem para defendê-lo, grupo que representa a maioria da classe trabalhadora e, portanto, a esmagadora maioria da população, e assistiu pela TV ao impeachment (indo dormir cedo, por que tinha que pegar ônibus de madrugada ou andar quilômetros a pé para chegar ao trabalho) segue onde sempre esteve: sentindo que o país não lhe pertence. Entende que as coisas vão piorando e, quando bandidos não retiram o pouco que ele tem, o Estado faz isso. Seja roubando sua qualidade de vida através de equipamentos de educação e saúde que não funcionam, seja violentando-o nas periferias de todo o país através de forças policias que atiram em meninas negras de oito anos que sonhavam em ser a Mulher Maravilha.
A sensação é de que uma parte da população, aturdida com tudo o que foi descrito acima, deixou de acreditar na coletividade e busca construir sua vida tirando o Estado da equação. É amparada por redes de proteção muitas vezes construídas por igrejas evangélicas, que suprem o vácuo criado pelo poder público. Sem fiscalização por parte do povo, o Estado fica livre para continuar servindo à velha política e a uma parte do poder econômico.
Como já disse aqui, o Brasil foi cozinhando sua insatisfação em desalento, impotência, desgosto e cinismo. Talvez isso não estoure mais em manifestações com milhões, como em 2013 ou 2015, mas gera uma bomba-relógio que pode ferir de morte a democracia. Quando o impeachment foi aprovado, um dos receios era o esgarçamento institucional que a retirada de uma presidente eleita pelo voto popular por um motivo frágil (pedaladas fiscais) em vez de um caminho mais sólido (cassação da chapa por caixa 2) poderia causar. Infelizmente, o esgarçamento aconteceu. Vivemos um momento em que a sensação de desrespeito a regras e normas – por parte do governo, parlamentares, procuradores e juízes – é amplo.
Em meio a isso, uma parte da extrema direita vai às ruas decretar a inutilidade não só do parlamento, mas também da própria atividade política – que, teoricamente, deveria ser uma das mais nobres práticas humanas. Outra solicita que encontremos um "salvador da pátria" que nos tirará das trevas. E quem é de Jesus torce para Jesus voltar – e, enquanto isso não acontece, obedece fielmente aos seus autointitulados representantes.
A corrupção minou bastante a credibilidade de instituições. Mensalões, Trensalões, Lavas-Jato e a maioria dos escândalos, que permanecem longe dos olhos do grande público, marcaram época. Depois, a corrupção daqueles que lutavam contra a corrupção ajudou a aumentar o cinismo diante do sistema. Sérgio Moro segue herói para o naco que acredita que deve-se passar por cima de leis para defender as leis.
Mas a insatisfação coletiva trazida pela falta de soluções efetivas diante da crise econômica é o elemento matador. No Brasil, assim como no Chile, são muitos os que explicam para a população que sua dor diante da fome, da sede e do frio não faz sentido. Afinal, o índice da Bolsa de Valores sobe tão bonito…
O problema é que deixar de confiar na política como arena para a solução dos problemas cotidianos é equivalente a abandonar o diálogo visando à construção coletiva. Caídas em descrença, instituições levam décadas para se reerguer – quando conseguem. No meio dessa confusão, pessoas que prometem ser uma luz na escuridão, assumiram o comando – guiando-nos, a cada dia, direto às trevas.
Talvez o tempo da indignação já tenha passado. E abriu caminho para a desconstrução daquilo que 31 anos de uma Constituição cidadã ergueram por aqui. Grandes governos autoritários ao redor do mundo, à direita e à esquerda, também começaram respaldados pelo voto popular. Sim, a democracia pode morrer sob uma salva de palmas de uma maioria.
Qual é a motivação de um cidadão comum, que rala o dia inteiro e não tenta levar vantagem sobre o vizinho, quando ouve Bolsonaro dizer que vai beneficiar seu filho, indicando-o para o cargo de embaixador nos Estados Unidos? Ou quanto vê um grande combinado para evitar que o outro filho do presidente e seu Queiroz sejam investigados por um rosário de indícios de irregularidades com o dinheiro público? Nenhuma, provavelmente. Mas ele aprende a duras penas que, na bandeira nacional, não está escrito "Ordem e Progresso", mas "Malandro é malandro e mané é mané".
A geração de empregos formais (aqueles com direitos básicos, como férias e 13o salário) não tem sido rápida o bastante diante do estoque de 12,6 milhões de desempregados. O desemprego cai, mas em cima do aumento da informalidade. O presidente não apresentou, até o momento, um projeto nacional para fomentar geração de postos formais de trabalho. Pelo contrário: pressionado, já disse: "Tenho pena? Tenho. Faço o que for possível, mas não posso fazer milagre, não posso obrigar ninguém a empregar".
A elite econômica do país celebra a aprovação da MP da "Liberdade Econômica" e da Reforma da Previdência. Enquanto isso, os controles ambientais enfraquecem, a fiscalização trabalhista é atacada, as comunidades tradicionais são ignoradas, a vida nas periferias desprezada, a cultura e a educação são achincalhadas. Os direitos perdem tamanho, espaço, respeito.
O surpreendente não é que as pessoas no Chile estejam com raiva. Mas trabalhadores de outras partes do mundo – brasileiros inclusive – não estarem também.




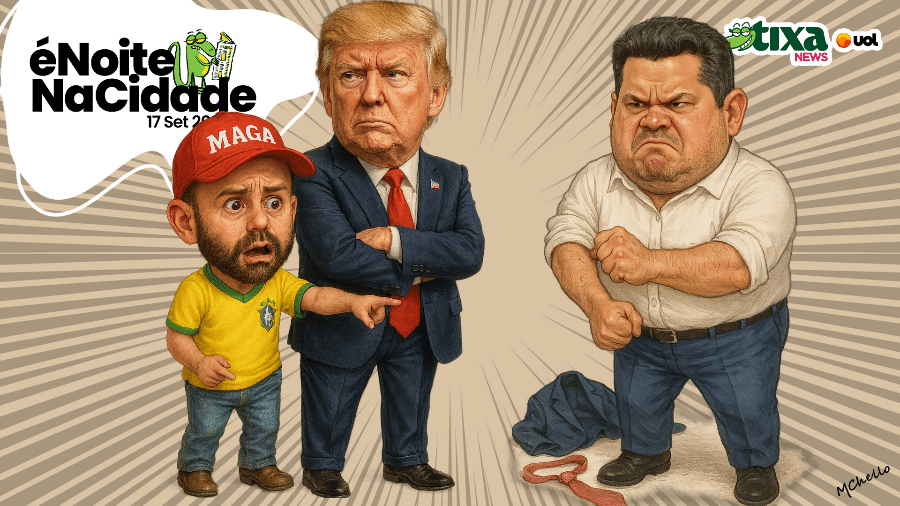













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.